Science Fiction
Prosseguindo no contínuo desfolhar de páginas do passado, bem demonstrativo do meu irremediável anacronismo, próprio de quem é incapaz de aprender seja o que for, encontrei hoje um magnífico artigo de Marcos de Sousa Guedes que nem parece de 1983. Atente-se bem na atenção dada ao "Senhor dos Anéis" e a Tolkien, obra e autor nessa altura pouco menos que desconhecidos em Portugal. É um pequeno ensaio realmente notável, tanto pela abordagem feita como até pela juventude e erudição do autor (um verdadeiro adiantado mental, acreditem).
O artigo saiu no primeiro número de "Universidade e Cultura", revistinha portuense fabricada pelo Rui Albuquerque, na Associação Académica da Universidade Livre do Porto.
Faço questão de partilhar convosco o prazer de ler este artigo, sobretudo os que se interessam por estes temas de literatura de ficção científica.
Aqui fica, com um abraço ao Rui e ao Marcos, e como presente aos estimados leitores (e aproveitem, antes que cheguem as tropas da mano blanca e me encerrem a tasca).
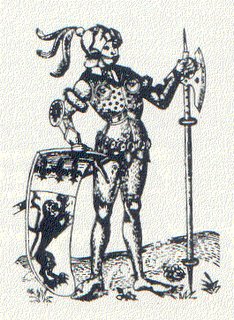
O MITO E A UTOPIA NA LITERATURA MODERNA
O Mito e a Utopia têm representado, através dos séculos, duas constantes do pensamento e da Arte ocidentais; em cada época e em cada situação, traduzindo o que existe de mais profundo na alma e na vontade dos povos, é no Folclore e na Literatura, na Música tal como na Poesia e no Cinema, que muitas vezes se encontra a chave do fundo colectivo da concepção do Mundo própria de cada Nação e de cada Cultura.
Recentemente, uma nova corrente literária ocupou o lugar das antigas sagas, das canções de gesta e das lendas do folclore popular: longe do mero subproduto da sociedade de consumo a que muitos a querem reduzir, a Ficção Científica é, verdadeiramente, ponto de aproximação aos arquétipos do pensamento ocidental, ponta de lança de uma Civilização nas vésperas do terceiro Milénio.
As raízes mais remotas das tradições literárias míticas e fantásticas da Europa estão, talvez, nas sagas célticas e germânicas e nos contos homéricos, uns e outros com origens referenciáveis no segundo milénio AC . Transmitidas e enriquecidas oralmente por uma casta diferenciada e marginal, os bardos e aedos, essas narrativas representaram, desde sempre, muito mais do que meras lendas ou exercícios de imaginação: nelas estavam contidos os vectores essenciais da concepção geral do mundo e da vida (Weltanschauung) dos seus autores.
Encaradas não como fantasias mas como mitos fundacionais (e a Eneida romana ou as sagas irlandesas dos Tuatha de Danann são elucidativas a este respeito), pertencia-lhes um importante papel de consolidação social, enraizando a comunidade no tempo (daí a importância das genealogias e filiações divinas da maioria dos seus heróis) e, por conseguinte, conferindo um sentido e uma dimensão supra-históricas às suas instituições e tradições sociais e políticas.
Estas características essenciais mantêm-se presentes através da Idade Média, após o processo de cristianização, corporizadas nas gestas e epopeias de cavalaria: do Amadis e do Cid peninsulares até ao Parsifal germânico de von Eschenbach e à mais cristianizada Mort D'Arthur de Chrétien de Troyes, os ciclos do Graal e do Rei Arthur não são mais do que a expressão, adequada às características mentais e religiosas da época, de tradições e referências mais antigas e caracterizadamente europeias.
O mesmo papel tiveram, de um modo geral, as formas poéticas de tipo cantiga de Amor introduzidas e divulgadas na mesma época, nas cortes e solares da Borgonha e da Occitânia, por trovadores e cavaleiros fiéis de Amor; mais uma vez, por trás do formalismo literário encontra-se uma estrutura mítica bastante complexa e desenvolvida, reflectindo modos de ser e de estar no mundo específicos e que permanecem como laços espirituais de identificação e parentesco no seio de uma sociedade em profunda transformação. Na base de todas estas narrativas encontram-se uma série de mitos e arquétipos de pensamento próprios das culturas indo-europeias e que dificilmente se encontram, ao menos de forma tão pura, em qualquer outra cultura do globo, com a notável excepção da japonesa.
E é conveniente notar que, sendo de um modo geral criações literárias semi-colectivas, é característica das narrativas míticas que muitos dos seus elementos mais importantes e significativos tenham, como salientou Evola (1) "sido expressos praticamente sem o conhecimento dos seus autores, os quais mal se deram conta de obedecer a certas influências ... com uma sensação bastante confusa do alcance dos temas por eles postos no centro das suas criações". O mito, na sua veste literária, aparece assim como uma óptima oportunidade de dissecar profundamente a psicologia colectiva de um povo e de trazer à superfície as grandes linhas de força de uma tradição cultural.
Surge-nos assim claramente aquilo a que Georges Dumézil (2) chamava a concepção tripartida do Mundo, base filosófica e cosmogónica de uma verdadeira ideologia indo-europeia que distinguia, na sociedade, três grandes grupos complementares e hierarquizados: o sacerdote, o guerreiro e o produtor.
Subjacente a esta concepção está um modelo de ética que preserve o pluralismo e a especificidade dos valores e dos grupos humanos; é notória no entanto, em todo o Ocidente, a ascensão da ética guerreira de valorização do heroísmo, que faz do mito do Herói um dos mais típicos do pensamento tradicional europeu. A epopeia, fundamental no desenvolvimento das culturas indo-europeias, não é mais que a expressão desse substrato mental específico centrado em valores históricos comuns.
A ideologia heróica traduz-se na formação de uma moral baseada numa estética e não numa metafísica, conducente a uma visão pessimista a trágica da vida e do destino; daí a constante presença dos mitos de luta e revolta do homem contra os deuses (são exemplo os mitos da revolta dos titãs, da revolta de Prometeu ou a saga germânica de Siegfried). Mas a revolta heróica é, antes de mais, uma revolta positiva. O herói, pelas suas acções, procura dar-se uma forma, forjar uma alma - tal como o caracterizava Phillipe Seller, o acto heróico traduz o "desejo de ser deus".
No pólo oposto, também a tradição utópica tem sido, pelo menos desde Platão e a República, uma constante do pensamento europeu. Na sua génese não estarão ausentes preocupações metafísicas que traduzem a influência do pensamento religioso oriental. Assim se poderá, em parte, explicar a presença, durante a Idade Média, de um pensamento milenarista e apocalíptico associado a uma série de heresias religiosas (o fenómeno cátaro, a heresia de Joachim de Fiore) a que não são estranhas influências maniqueístas; no Renascimento, a Utopia regressará em força com o inglês Thomas More, cujo livro deu o nome à ideologia. A partir daí, da Cidade do Sol de Campanella ao Paraíso Perdido de Milton, tem sido grande a tentação de estabelecer definitivamente as linhas mestras da sociedade perfeita, da sociedade dos Iguais, de onde estariam erradicados todos os males e pecados da sociedade civilizada.
Desde logo se vislumbra aqui a grande oposição de fundo desta corrente com a literatura de raíz mítico-heróica: os autores das utopias, por diversas que sejam, têm em comum o facto de estarem pessoalmente descontentes com a ordem política e social do seu mundo; mas em vez de realizar o gesto mítico do Herói que molda e transforma o mundo à sua imagem ("Não há transformação do mundo que não assente antes de mais numa ultrapassagem de si próprio", afirma Alain de Benoist (3) ), preferem refugiar-se na imaginação cómoda de um mundo já perfeitamente estruturado, sem a necessidade de intervenção do supremo esforço criador que no pensamento tradicional mudava o mortal em semi-deus ...
Na busca do ambiente ideal para a sua acção, as construções utópicas localizaram-se geralmente em ilhas ou cidades perdidas, como a Nova Atlântida de Francis Bacon. E isto a tal ponto que se pode falar, com Ritter, de um pensamento oceânico, utópico e racionalista, contraposto a um pensamento continental, realista e maquiavélico.
O aparecimento, por meados do séc. XVIII, do desastroso filósofo francês Rousseau e das suas teses do bom selvagem, deu novo ânimo a todos os desgostosos da vida e da realidade, que imediatamente se lançaram na busca, nalgum continente mais longínquo, de qualquer tribo esquecida, mais ou menos humanizada, que mantivesse intactas as virtudes "esquecidas" da inocência, da ingenuidade, da igualdade e da liberdade totais.
O fracasso desta pesquisa levou ao aparecimento, acompanhando a Revolução Industrial e o desenvolvimento técnico e económico por ela provocado, de uma nova geração que, em desespero de causa, procurava no progresso e no sentido da civilização e da História a chave da cura dos males humanos, alheios e próprios: é a época áurea dos Fourier, dos Saint-Simon, dos Proudhon, dos Owen, dos Marx, dos Bakounine ..
A Ficção Científica, fenómeno literário característico do século XX, reflecte de uma maneira única, nos seus expoentes mais elevados, a continuação das influências, mais ou menos conscientes, que marcaram o desenvolvimento da cultura e da arte europeias e ocidentais e cuja génese se procurou traçar em grandes linhas. É de facto aqui que se detectam mais facilmente as formas que o mito heróico é forçado a assumir na sociedade tecnológica e democrática; as epopeias transferiram-se para a periferia da Galáxia ou para os estranhos universos paralelos e as utopias realizam-se em mundos concentracionários e cinzentos.
Tem no entanto este género literário como antepassado mais directo o chamado conto gótico, produto impressionista da reacção anti-racionalista de fins do séc. XVIII (depois corporizada no movimento romântico alemão) e que está na base de toda a literatura fantástica.
A partir do clássico Castelo de Otranto, escrito cerca de 1760 por lord Walpole, desenvolve-se uma corrente que se caracteriza, nas palavras de Robert Heinlein, " ... ora negando o mundo real in toto, ora baseando a narração em uma ou várias premissas falaciosas: fadas, mulas que falam, viagens através do espelho, vampiros".
Desenvolvida através do séc. XIX por Edgar Allan Poe, Lewis Carroll, Selma Lagerlof, Gerard de Nerval e Hoffman, entre outros, a literatura fantástica verá a sua consagração máxima nos anos 30 com o americano Howard Philip Lovecraft.
É nesta altura que se processa o seu cruzamento com um tipo literário surgido da literatura de viagens do séc. XIX, e que conjuga ambientes estranhos e exóticos com um certo gosto pela Máquina, pelo Progresso e pelas transformações que a tecnologia trará à mentalidade humana. Júlio Verne é, talvez, aqui, o autor que maior divulgação atingiu; mas são de citar também o americano Edgar Rice Borroughs e o britânico Herbert George Wells, o famoso autor de A Guerra dos Mundos. Daqui irá nascer a Ficção Científica clássica, que conhecerá o seu apogeu na América dos anos 40: os mitos fundacionais americanos reflectem-se quase primariamente numa geração de autores que coloca o problema da conquista do espaço em termos em tudo semelhantes aos dos antigos pioneiros do Oeste; o papel que a América se arrogava no xadrez político do pós-guerra, de garante das liberdades e inimiga das tiranias ocultas era pretexto para complexas intrigas em que, de um modo geral, sob a bandeira dos impérios galácticos se erguia a estrutura da mundovisão americana.
Nenhum exemplo se poderá porém encontrar melhor para definir aquilo que, dentro da Ficção Científica, representa a forma moderna da sobrevivência, mais ou menos literária, da tradição do pensamento e das mitologias heróicas da antiga Europa do que a obra de John R. Tolkien, O Senhor dos Anéis (4).
Um ignorado professor de Oxford, especialista em linguística e mitologias indo-europeias, foi construindo lentamente, nos anos que antecederam a II Guerra, e em jeito de história contada ao seu filho, um mundo fantástico inteiramente novo, dotado de uma própria cosmogonia, uma própria história, uma própria linguística. O resultado foi, talvez, a obra mais fascinante de toda a literatura fantástica deste século.
Impregnada do sentimento trágico sempre presente nas epopeias heróicas, o Senhor dos Anéis mostra-nos, na própria forma do seu desenvolvimento narrativo, uma concepção do mundo ligada à tradição e às memórias europeias: apanhado por um golpe do destino, é a própria reacção do Herói, não se conformando com o papel de joguete, de peão nas mãos dos deuses e de forças que o ultrapassam infinitamente que, no que começa por ser uma revolta, acaba por conduzir a uma posição já não submetida ao destino mas criadora dele - no momento em que, levado às últimas consequências do esforço heróico, se dá a consagração do herói como "incessante traço de união entre os deuses e os homens, que mutuamente se conceberam à sua imagem" (5).
E assim, o que parecia a princípio ser a descrição de um conflito localizado vai-se avolumando, ao longo das páginas de Tolkien, até culminar no afrontamento decisivo das potências da luz e das trevas. Tudo começa porque Frodon, o Hobbit, espécie de Gnomo simpático e bonhomme, se encontra na posse de um misterioso anel de ouro de que ignora a providência. Mas Gandalf, o Mágico, figura que recorda irresistivelmente os antigos druidas da tradição céltica, traz um aviso inquietante: o anel do hobbit é nada mais que o Anel do Poder, forjado na noite dos tempos por Sauron, o Senhor das Trevas, o Inimigo, e destinado a conferir-lhe o poder total sobre o Universo. Do fundo das suas terras de Mordor, "onde vivem as Sombras", Sauron localiza o anel: os dados estão lançados e mesmo o Senhor das Trevas não poderá escapar ao destino da confrontação.
E é impossível, mesmo ao leitor mais desprevenido, resistir ao fascínio desse mundo de hobbits e feiticeiros, de reis e camponeses, e à tentação de acompanhar os Povos Livres da Ocidentalidade - Anões, Elfos e Homens - na sua luta pela liberdade ameaçada pelo poder das trevas, pela escuridão vinda de Leste.
O simbolismo da obra de Tolkien tem constituído apaixonado tema de debate: enquanto certos grupos racistas americanos nele viram uma defesa das suas teses de "pureza biológica", outros entenderam-na como um subtil estudo de Geopolítica (de que Tolkien seria profundo conhecedor) dirigido ao avanço militar da União Soviética. Tais interpretações, podendo conter a sua parcela de verdade, serão sempre secundárias em relação ao modo como Tolkien revelou, numa notável actualização da narrativa mítica, a estrutura profunda da alma europeia: o sentimento, expresso por mitos fundadores e lendas heróicas, por tradições sagradas e por certezas intuitivas, de pertencer a uma pátria e a uma terra eternas e firmes, forjada pela vontade e pelo sangue dos antepassados e para cada geração legado a transmitir aos vindouros.
Seria interessante fazer um estudo aprofundado das diferenças e pontos de convergência entre a obra de Tolkien e a de uma escritora oriunda da nova esquerda americana, escrita trinta anos após a saga do professor inglês: a trilogia do Feiticeiro de Terramar, de Ursula Kroeber le Guin (6).
Tendo como centro de referência não já a época guerreira mas o ascetismo sacerdotal, a obra de Ursula le Guin descreve um mundo oceânico, de Inverno e brumas, povoado por gentes silenciosas e simples, enquadradas por uma Ordem de magos-sacerdotes imbuídos da suprema missão de "assegurar o equilíbrio", de velar pelo desenrolar da vida e das leis universais, de "entender a profunda natureza dos seres e das coisas".
Uma cosmogonia deste género, se por um lado está também de acordo com formas míticas ancestrais, por outro revela uma psicologia própria, a que corresponde um tipo sacerdotal, mais feminino do que viril, de espiritualidade. "Chamamos lunar a esta espiritualidade", diz Evola numa das suas obras mais famosas, (7) "porque o símbolo da prata esteve sempre, em relação ao ouro, como a Lua para o Sol: a Lua é o astro feminino que já não tem em si o princípio da própria luz". Desse ponto de vista, o Senhor dos Anéis corresponde abertamente a um ciclo de mitos solares, continentais, nórdicos, enquanto que o Feiticeiro se projectará numa mitologia marítima, lunar e mediterrânica.
E é curioso notar que enquanto o processo heróico corresponde, em termos próximos das concepções de Nietzsche, a uma vontade de superação constante, o miticismo acaba por se traduzir na vontade oposta, na vontade de abandono, num desejo de integração que se conduz, afinal, a uma sublimação dos mitos e das crenças dos sectores mais espiritualizados das esquerdas centrados num igualitarismo comutativo e numa esperança quase religiosa de fraternidade estática e não-violenta. Teríamos assim, no fundo, nestas duas obras em confronto, a representação telúrica mais elevada de duas concepções do mundo e da vida que, traduzidas nos termos estreitos das mitologias políticas contemporâneas, corresponderiam às direitas e às esquerdas.
Paralelamente à corrente de obras fantásticas, é possível distinguir, dentro do universo da Ficção Científica que aqui nos serve de ponto de referência e fio de Ariana na revelação dos grandes paradigmas de algumas estruturas de pensamento - aquele conjunto de obras e autores que representam a continuidade e a evolução do pensamento utópico.
Uma nota fundamental distingue, porém, as modernas utopias das tradicionais: a literatura do séc. XX conheceu uma curiosa inversão do fenómeno utópico, que agora se projecta naquilo que podemos designar por anti-utopias ou utopias negativas: a descrição do pior dos mundos, apontado como aquilo que sucederá à nossa civilização se insistir em prosseguir o seu caminho. Nota-se aqui claramente a manutenção do mesmo espírito desgostoso da vida que levou em qualquer época às construções utópicas; mas com a agravante de se insinuar que a felicidade já não é possível, seja onde for - nem mesmo na ilha mais retirada.
E: nesta linha que se inscrevem romances tão conhecidos como o Admirável Mundo Novo, do filósofo britânico Aldous Huxley, o célebre 1984 de George Orwell, o Fahrenheit 451 de Bradbury, a Utopia 14 do americano Kurt Vonnegut, e uma infindável série de outros.
Pela sua própria natureza, no entanto, tentativas filosófico-literárias deste género esgotam-se em si próprias e não asseguram continuidade.
Os leitores cansam-se facilmente das denúncias ao inferno da técnica e do progresso e, entre as anti-utopias ocidentais e a Ficção Científica soviética - onde autores de categoria como V. Saparine e Victor Juratleva se empenham na descrição do homem novo saído da revolução mundial - as preferências do público voltam-se decididamente para os escritos de ficção dos grandes cientistas - e aqui é de salientar a obra literária do grande astrofísico inglês Fred Hoyle - ou para aventuras irreais em mundos povoados de duendes e seres do espaço, de autómatos com preocupações religiosas, de demónios expulsos do Inferno e dos inevitáveis cavaleiros errantes, herdeiros em linha recta dos mais puros contos góticos e fantásticos dos séculos passados - uma linha onde se distinguem autores como Ray Bradbury, Clifford Simak, Roger Zelazny, Philip Jose Farmer, Poul Anderson, entre muitos outros de grande qualidade.
É inegável, deste ponto de vista, a importância da Ficção Científica como reveladora, nesta época, de referências milenares. Mas enganar-se-ia quem lhe atribuísse meramente um papel de guardiã do passado, em mitos projectados no Espaço apenas por comodidade literária e beleza narrativa.
O mais importante papel da Ficção Científica contemporânea, aquele que mais fortemente ficará assinalado numa futura história do pensamento deste fim de milénio, é o ter permitido, pela primeira vez, a união indissolúvel da Ciência e da Poesia como condição indispensável para forjar um homem completo. Na época em que o milenar sonho de ir às estrelas se aproxima pela primeira vez da realidade, o mérito dos escritores de Ficção é terem dado um enorme contributo para a formação de uma mentalidade realmente aberta; não foi por acaso que uma das maiores obras de F .C. - o Cântico para Leibowitz, de Miller - esteve na base de O Despertar dos Mágicos, a obra fundamental de Pauwels e Bergier.
Contrariamente ao que pretendia Freud, uma comunidade saudável não é aquela que se liberta dos seus mitos mas sim aquela que os sabe actualizar e manter vivos; e a Ficção Científica, criadora de alguns dos maiores mitos contemporâneos, só será assim desprezada por aqueles que são hoje incapazes de imaginar o futuro - simplesmente porque perderam a memória da riqueza do seu passado.
Marcos de Sousa Guedes
O artigo saiu no primeiro número de "Universidade e Cultura", revistinha portuense fabricada pelo Rui Albuquerque, na Associação Académica da Universidade Livre do Porto.
Faço questão de partilhar convosco o prazer de ler este artigo, sobretudo os que se interessam por estes temas de literatura de ficção científica.
Aqui fica, com um abraço ao Rui e ao Marcos, e como presente aos estimados leitores (e aproveitem, antes que cheguem as tropas da mano blanca e me encerrem a tasca).
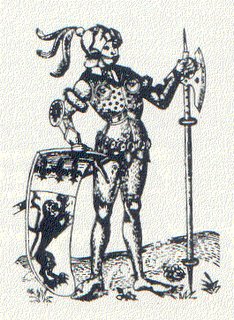
O MITO E A UTOPIA NA LITERATURA MODERNA
O Mito e a Utopia têm representado, através dos séculos, duas constantes do pensamento e da Arte ocidentais; em cada época e em cada situação, traduzindo o que existe de mais profundo na alma e na vontade dos povos, é no Folclore e na Literatura, na Música tal como na Poesia e no Cinema, que muitas vezes se encontra a chave do fundo colectivo da concepção do Mundo própria de cada Nação e de cada Cultura.
Recentemente, uma nova corrente literária ocupou o lugar das antigas sagas, das canções de gesta e das lendas do folclore popular: longe do mero subproduto da sociedade de consumo a que muitos a querem reduzir, a Ficção Científica é, verdadeiramente, ponto de aproximação aos arquétipos do pensamento ocidental, ponta de lança de uma Civilização nas vésperas do terceiro Milénio.
As raízes mais remotas das tradições literárias míticas e fantásticas da Europa estão, talvez, nas sagas célticas e germânicas e nos contos homéricos, uns e outros com origens referenciáveis no segundo milénio AC . Transmitidas e enriquecidas oralmente por uma casta diferenciada e marginal, os bardos e aedos, essas narrativas representaram, desde sempre, muito mais do que meras lendas ou exercícios de imaginação: nelas estavam contidos os vectores essenciais da concepção geral do mundo e da vida (Weltanschauung) dos seus autores.
Encaradas não como fantasias mas como mitos fundacionais (e a Eneida romana ou as sagas irlandesas dos Tuatha de Danann são elucidativas a este respeito), pertencia-lhes um importante papel de consolidação social, enraizando a comunidade no tempo (daí a importância das genealogias e filiações divinas da maioria dos seus heróis) e, por conseguinte, conferindo um sentido e uma dimensão supra-históricas às suas instituições e tradições sociais e políticas.
Estas características essenciais mantêm-se presentes através da Idade Média, após o processo de cristianização, corporizadas nas gestas e epopeias de cavalaria: do Amadis e do Cid peninsulares até ao Parsifal germânico de von Eschenbach e à mais cristianizada Mort D'Arthur de Chrétien de Troyes, os ciclos do Graal e do Rei Arthur não são mais do que a expressão, adequada às características mentais e religiosas da época, de tradições e referências mais antigas e caracterizadamente europeias.
O mesmo papel tiveram, de um modo geral, as formas poéticas de tipo cantiga de Amor introduzidas e divulgadas na mesma época, nas cortes e solares da Borgonha e da Occitânia, por trovadores e cavaleiros fiéis de Amor; mais uma vez, por trás do formalismo literário encontra-se uma estrutura mítica bastante complexa e desenvolvida, reflectindo modos de ser e de estar no mundo específicos e que permanecem como laços espirituais de identificação e parentesco no seio de uma sociedade em profunda transformação. Na base de todas estas narrativas encontram-se uma série de mitos e arquétipos de pensamento próprios das culturas indo-europeias e que dificilmente se encontram, ao menos de forma tão pura, em qualquer outra cultura do globo, com a notável excepção da japonesa.
E é conveniente notar que, sendo de um modo geral criações literárias semi-colectivas, é característica das narrativas míticas que muitos dos seus elementos mais importantes e significativos tenham, como salientou Evola (1) "sido expressos praticamente sem o conhecimento dos seus autores, os quais mal se deram conta de obedecer a certas influências ... com uma sensação bastante confusa do alcance dos temas por eles postos no centro das suas criações". O mito, na sua veste literária, aparece assim como uma óptima oportunidade de dissecar profundamente a psicologia colectiva de um povo e de trazer à superfície as grandes linhas de força de uma tradição cultural.
Surge-nos assim claramente aquilo a que Georges Dumézil (2) chamava a concepção tripartida do Mundo, base filosófica e cosmogónica de uma verdadeira ideologia indo-europeia que distinguia, na sociedade, três grandes grupos complementares e hierarquizados: o sacerdote, o guerreiro e o produtor.
Subjacente a esta concepção está um modelo de ética que preserve o pluralismo e a especificidade dos valores e dos grupos humanos; é notória no entanto, em todo o Ocidente, a ascensão da ética guerreira de valorização do heroísmo, que faz do mito do Herói um dos mais típicos do pensamento tradicional europeu. A epopeia, fundamental no desenvolvimento das culturas indo-europeias, não é mais que a expressão desse substrato mental específico centrado em valores históricos comuns.
A ideologia heróica traduz-se na formação de uma moral baseada numa estética e não numa metafísica, conducente a uma visão pessimista a trágica da vida e do destino; daí a constante presença dos mitos de luta e revolta do homem contra os deuses (são exemplo os mitos da revolta dos titãs, da revolta de Prometeu ou a saga germânica de Siegfried). Mas a revolta heróica é, antes de mais, uma revolta positiva. O herói, pelas suas acções, procura dar-se uma forma, forjar uma alma - tal como o caracterizava Phillipe Seller, o acto heróico traduz o "desejo de ser deus".
No pólo oposto, também a tradição utópica tem sido, pelo menos desde Platão e a República, uma constante do pensamento europeu. Na sua génese não estarão ausentes preocupações metafísicas que traduzem a influência do pensamento religioso oriental. Assim se poderá, em parte, explicar a presença, durante a Idade Média, de um pensamento milenarista e apocalíptico associado a uma série de heresias religiosas (o fenómeno cátaro, a heresia de Joachim de Fiore) a que não são estranhas influências maniqueístas; no Renascimento, a Utopia regressará em força com o inglês Thomas More, cujo livro deu o nome à ideologia. A partir daí, da Cidade do Sol de Campanella ao Paraíso Perdido de Milton, tem sido grande a tentação de estabelecer definitivamente as linhas mestras da sociedade perfeita, da sociedade dos Iguais, de onde estariam erradicados todos os males e pecados da sociedade civilizada.
Desde logo se vislumbra aqui a grande oposição de fundo desta corrente com a literatura de raíz mítico-heróica: os autores das utopias, por diversas que sejam, têm em comum o facto de estarem pessoalmente descontentes com a ordem política e social do seu mundo; mas em vez de realizar o gesto mítico do Herói que molda e transforma o mundo à sua imagem ("Não há transformação do mundo que não assente antes de mais numa ultrapassagem de si próprio", afirma Alain de Benoist (3) ), preferem refugiar-se na imaginação cómoda de um mundo já perfeitamente estruturado, sem a necessidade de intervenção do supremo esforço criador que no pensamento tradicional mudava o mortal em semi-deus ...
Na busca do ambiente ideal para a sua acção, as construções utópicas localizaram-se geralmente em ilhas ou cidades perdidas, como a Nova Atlântida de Francis Bacon. E isto a tal ponto que se pode falar, com Ritter, de um pensamento oceânico, utópico e racionalista, contraposto a um pensamento continental, realista e maquiavélico.
O aparecimento, por meados do séc. XVIII, do desastroso filósofo francês Rousseau e das suas teses do bom selvagem, deu novo ânimo a todos os desgostosos da vida e da realidade, que imediatamente se lançaram na busca, nalgum continente mais longínquo, de qualquer tribo esquecida, mais ou menos humanizada, que mantivesse intactas as virtudes "esquecidas" da inocência, da ingenuidade, da igualdade e da liberdade totais.
O fracasso desta pesquisa levou ao aparecimento, acompanhando a Revolução Industrial e o desenvolvimento técnico e económico por ela provocado, de uma nova geração que, em desespero de causa, procurava no progresso e no sentido da civilização e da História a chave da cura dos males humanos, alheios e próprios: é a época áurea dos Fourier, dos Saint-Simon, dos Proudhon, dos Owen, dos Marx, dos Bakounine ..
A Ficção Científica, fenómeno literário característico do século XX, reflecte de uma maneira única, nos seus expoentes mais elevados, a continuação das influências, mais ou menos conscientes, que marcaram o desenvolvimento da cultura e da arte europeias e ocidentais e cuja génese se procurou traçar em grandes linhas. É de facto aqui que se detectam mais facilmente as formas que o mito heróico é forçado a assumir na sociedade tecnológica e democrática; as epopeias transferiram-se para a periferia da Galáxia ou para os estranhos universos paralelos e as utopias realizam-se em mundos concentracionários e cinzentos.
Tem no entanto este género literário como antepassado mais directo o chamado conto gótico, produto impressionista da reacção anti-racionalista de fins do séc. XVIII (depois corporizada no movimento romântico alemão) e que está na base de toda a literatura fantástica.
A partir do clássico Castelo de Otranto, escrito cerca de 1760 por lord Walpole, desenvolve-se uma corrente que se caracteriza, nas palavras de Robert Heinlein, " ... ora negando o mundo real in toto, ora baseando a narração em uma ou várias premissas falaciosas: fadas, mulas que falam, viagens através do espelho, vampiros".
Desenvolvida através do séc. XIX por Edgar Allan Poe, Lewis Carroll, Selma Lagerlof, Gerard de Nerval e Hoffman, entre outros, a literatura fantástica verá a sua consagração máxima nos anos 30 com o americano Howard Philip Lovecraft.
É nesta altura que se processa o seu cruzamento com um tipo literário surgido da literatura de viagens do séc. XIX, e que conjuga ambientes estranhos e exóticos com um certo gosto pela Máquina, pelo Progresso e pelas transformações que a tecnologia trará à mentalidade humana. Júlio Verne é, talvez, aqui, o autor que maior divulgação atingiu; mas são de citar também o americano Edgar Rice Borroughs e o britânico Herbert George Wells, o famoso autor de A Guerra dos Mundos. Daqui irá nascer a Ficção Científica clássica, que conhecerá o seu apogeu na América dos anos 40: os mitos fundacionais americanos reflectem-se quase primariamente numa geração de autores que coloca o problema da conquista do espaço em termos em tudo semelhantes aos dos antigos pioneiros do Oeste; o papel que a América se arrogava no xadrez político do pós-guerra, de garante das liberdades e inimiga das tiranias ocultas era pretexto para complexas intrigas em que, de um modo geral, sob a bandeira dos impérios galácticos se erguia a estrutura da mundovisão americana.
Nenhum exemplo se poderá porém encontrar melhor para definir aquilo que, dentro da Ficção Científica, representa a forma moderna da sobrevivência, mais ou menos literária, da tradição do pensamento e das mitologias heróicas da antiga Europa do que a obra de John R. Tolkien, O Senhor dos Anéis (4).
Um ignorado professor de Oxford, especialista em linguística e mitologias indo-europeias, foi construindo lentamente, nos anos que antecederam a II Guerra, e em jeito de história contada ao seu filho, um mundo fantástico inteiramente novo, dotado de uma própria cosmogonia, uma própria história, uma própria linguística. O resultado foi, talvez, a obra mais fascinante de toda a literatura fantástica deste século.
Impregnada do sentimento trágico sempre presente nas epopeias heróicas, o Senhor dos Anéis mostra-nos, na própria forma do seu desenvolvimento narrativo, uma concepção do mundo ligada à tradição e às memórias europeias: apanhado por um golpe do destino, é a própria reacção do Herói, não se conformando com o papel de joguete, de peão nas mãos dos deuses e de forças que o ultrapassam infinitamente que, no que começa por ser uma revolta, acaba por conduzir a uma posição já não submetida ao destino mas criadora dele - no momento em que, levado às últimas consequências do esforço heróico, se dá a consagração do herói como "incessante traço de união entre os deuses e os homens, que mutuamente se conceberam à sua imagem" (5).
E assim, o que parecia a princípio ser a descrição de um conflito localizado vai-se avolumando, ao longo das páginas de Tolkien, até culminar no afrontamento decisivo das potências da luz e das trevas. Tudo começa porque Frodon, o Hobbit, espécie de Gnomo simpático e bonhomme, se encontra na posse de um misterioso anel de ouro de que ignora a providência. Mas Gandalf, o Mágico, figura que recorda irresistivelmente os antigos druidas da tradição céltica, traz um aviso inquietante: o anel do hobbit é nada mais que o Anel do Poder, forjado na noite dos tempos por Sauron, o Senhor das Trevas, o Inimigo, e destinado a conferir-lhe o poder total sobre o Universo. Do fundo das suas terras de Mordor, "onde vivem as Sombras", Sauron localiza o anel: os dados estão lançados e mesmo o Senhor das Trevas não poderá escapar ao destino da confrontação.
E é impossível, mesmo ao leitor mais desprevenido, resistir ao fascínio desse mundo de hobbits e feiticeiros, de reis e camponeses, e à tentação de acompanhar os Povos Livres da Ocidentalidade - Anões, Elfos e Homens - na sua luta pela liberdade ameaçada pelo poder das trevas, pela escuridão vinda de Leste.
O simbolismo da obra de Tolkien tem constituído apaixonado tema de debate: enquanto certos grupos racistas americanos nele viram uma defesa das suas teses de "pureza biológica", outros entenderam-na como um subtil estudo de Geopolítica (de que Tolkien seria profundo conhecedor) dirigido ao avanço militar da União Soviética. Tais interpretações, podendo conter a sua parcela de verdade, serão sempre secundárias em relação ao modo como Tolkien revelou, numa notável actualização da narrativa mítica, a estrutura profunda da alma europeia: o sentimento, expresso por mitos fundadores e lendas heróicas, por tradições sagradas e por certezas intuitivas, de pertencer a uma pátria e a uma terra eternas e firmes, forjada pela vontade e pelo sangue dos antepassados e para cada geração legado a transmitir aos vindouros.
Seria interessante fazer um estudo aprofundado das diferenças e pontos de convergência entre a obra de Tolkien e a de uma escritora oriunda da nova esquerda americana, escrita trinta anos após a saga do professor inglês: a trilogia do Feiticeiro de Terramar, de Ursula Kroeber le Guin (6).
Tendo como centro de referência não já a época guerreira mas o ascetismo sacerdotal, a obra de Ursula le Guin descreve um mundo oceânico, de Inverno e brumas, povoado por gentes silenciosas e simples, enquadradas por uma Ordem de magos-sacerdotes imbuídos da suprema missão de "assegurar o equilíbrio", de velar pelo desenrolar da vida e das leis universais, de "entender a profunda natureza dos seres e das coisas".
Uma cosmogonia deste género, se por um lado está também de acordo com formas míticas ancestrais, por outro revela uma psicologia própria, a que corresponde um tipo sacerdotal, mais feminino do que viril, de espiritualidade. "Chamamos lunar a esta espiritualidade", diz Evola numa das suas obras mais famosas, (7) "porque o símbolo da prata esteve sempre, em relação ao ouro, como a Lua para o Sol: a Lua é o astro feminino que já não tem em si o princípio da própria luz". Desse ponto de vista, o Senhor dos Anéis corresponde abertamente a um ciclo de mitos solares, continentais, nórdicos, enquanto que o Feiticeiro se projectará numa mitologia marítima, lunar e mediterrânica.
E é curioso notar que enquanto o processo heróico corresponde, em termos próximos das concepções de Nietzsche, a uma vontade de superação constante, o miticismo acaba por se traduzir na vontade oposta, na vontade de abandono, num desejo de integração que se conduz, afinal, a uma sublimação dos mitos e das crenças dos sectores mais espiritualizados das esquerdas centrados num igualitarismo comutativo e numa esperança quase religiosa de fraternidade estática e não-violenta. Teríamos assim, no fundo, nestas duas obras em confronto, a representação telúrica mais elevada de duas concepções do mundo e da vida que, traduzidas nos termos estreitos das mitologias políticas contemporâneas, corresponderiam às direitas e às esquerdas.
Paralelamente à corrente de obras fantásticas, é possível distinguir, dentro do universo da Ficção Científica que aqui nos serve de ponto de referência e fio de Ariana na revelação dos grandes paradigmas de algumas estruturas de pensamento - aquele conjunto de obras e autores que representam a continuidade e a evolução do pensamento utópico.
Uma nota fundamental distingue, porém, as modernas utopias das tradicionais: a literatura do séc. XX conheceu uma curiosa inversão do fenómeno utópico, que agora se projecta naquilo que podemos designar por anti-utopias ou utopias negativas: a descrição do pior dos mundos, apontado como aquilo que sucederá à nossa civilização se insistir em prosseguir o seu caminho. Nota-se aqui claramente a manutenção do mesmo espírito desgostoso da vida que levou em qualquer época às construções utópicas; mas com a agravante de se insinuar que a felicidade já não é possível, seja onde for - nem mesmo na ilha mais retirada.
E: nesta linha que se inscrevem romances tão conhecidos como o Admirável Mundo Novo, do filósofo britânico Aldous Huxley, o célebre 1984 de George Orwell, o Fahrenheit 451 de Bradbury, a Utopia 14 do americano Kurt Vonnegut, e uma infindável série de outros.
Pela sua própria natureza, no entanto, tentativas filosófico-literárias deste género esgotam-se em si próprias e não asseguram continuidade.
Os leitores cansam-se facilmente das denúncias ao inferno da técnica e do progresso e, entre as anti-utopias ocidentais e a Ficção Científica soviética - onde autores de categoria como V. Saparine e Victor Juratleva se empenham na descrição do homem novo saído da revolução mundial - as preferências do público voltam-se decididamente para os escritos de ficção dos grandes cientistas - e aqui é de salientar a obra literária do grande astrofísico inglês Fred Hoyle - ou para aventuras irreais em mundos povoados de duendes e seres do espaço, de autómatos com preocupações religiosas, de demónios expulsos do Inferno e dos inevitáveis cavaleiros errantes, herdeiros em linha recta dos mais puros contos góticos e fantásticos dos séculos passados - uma linha onde se distinguem autores como Ray Bradbury, Clifford Simak, Roger Zelazny, Philip Jose Farmer, Poul Anderson, entre muitos outros de grande qualidade.
É inegável, deste ponto de vista, a importância da Ficção Científica como reveladora, nesta época, de referências milenares. Mas enganar-se-ia quem lhe atribuísse meramente um papel de guardiã do passado, em mitos projectados no Espaço apenas por comodidade literária e beleza narrativa.
O mais importante papel da Ficção Científica contemporânea, aquele que mais fortemente ficará assinalado numa futura história do pensamento deste fim de milénio, é o ter permitido, pela primeira vez, a união indissolúvel da Ciência e da Poesia como condição indispensável para forjar um homem completo. Na época em que o milenar sonho de ir às estrelas se aproxima pela primeira vez da realidade, o mérito dos escritores de Ficção é terem dado um enorme contributo para a formação de uma mentalidade realmente aberta; não foi por acaso que uma das maiores obras de F .C. - o Cântico para Leibowitz, de Miller - esteve na base de O Despertar dos Mágicos, a obra fundamental de Pauwels e Bergier.
Contrariamente ao que pretendia Freud, uma comunidade saudável não é aquela que se liberta dos seus mitos mas sim aquela que os sabe actualizar e manter vivos; e a Ficção Científica, criadora de alguns dos maiores mitos contemporâneos, só será assim desprezada por aqueles que são hoje incapazes de imaginar o futuro - simplesmente porque perderam a memória da riqueza do seu passado.
Marcos de Sousa Guedes
Notas:
(1) Julius Evola, Il mistero deI Graal, trad. porto Ed. Vega, Lisboa 1978.
(2) vd. a sua obra principal Mythe et epopée, Gallimard, Paris 1974 (3) artigo publicado em Le Figaro Magazine, nº 6, 1978.
(4) editado em Portugal pelas Publicações Europa-América, tradução de Fernanda Pinto Rodrigues (3 vols), Lisboa, 1981.
(5) Alain de Benoist, artigo cit.
(6) editado em Portugal pela Livros do Brasil, col. Argonauta n.º 276; trad. de Eurico Fonseca, Lisboa, 1980.
(7) Julius Evola, op. cit. vd. também Rivolta contra il mondo moderno (1934) e Les hommes au milieu des ruines trad. francesa Ed. Les Sept Couleurs.
(1) Julius Evola, Il mistero deI Graal, trad. porto Ed. Vega, Lisboa 1978.
(2) vd. a sua obra principal Mythe et epopée, Gallimard, Paris 1974 (3) artigo publicado em Le Figaro Magazine, nº 6, 1978.
(4) editado em Portugal pelas Publicações Europa-América, tradução de Fernanda Pinto Rodrigues (3 vols), Lisboa, 1981.
(5) Alain de Benoist, artigo cit.
(6) editado em Portugal pela Livros do Brasil, col. Argonauta n.º 276; trad. de Eurico Fonseca, Lisboa, 1980.
(7) Julius Evola, op. cit. vd. também Rivolta contra il mondo moderno (1934) e Les hommes au milieu des ruines trad. francesa Ed. Les Sept Couleurs.


0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home